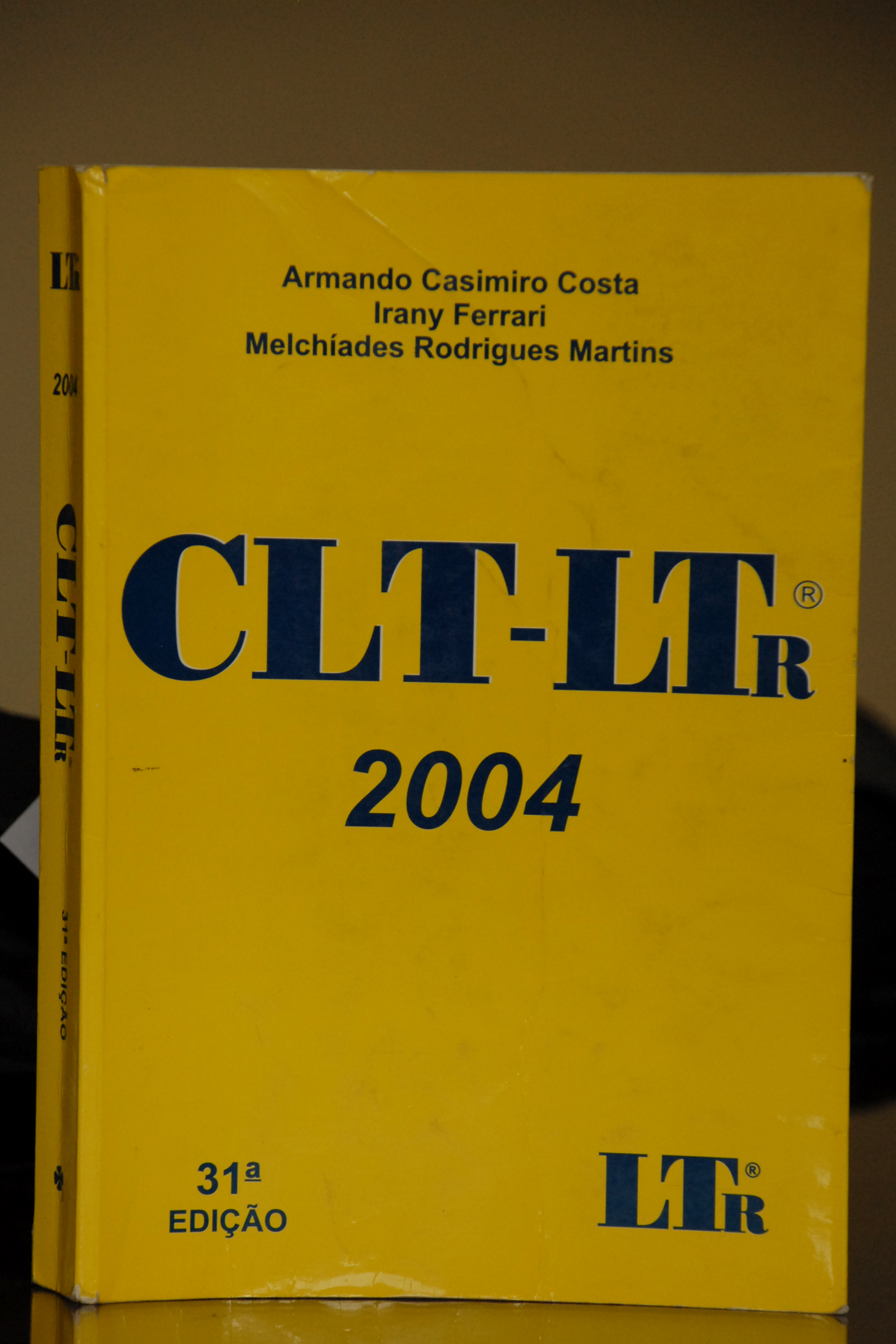A insegurança jurídica de normas de convenções coletivas ou acordos coletivos de trabalho sempre foi considerada elemento da dificuldade para os avanços nas negociações coletivas, as quais, na sua maioria, limitavam-se à repetição de direitos já assegurados por lei, com pouca margem de criatividade ou adaptação, quer por iniciativa de sindicato profissional, quer por sugestão patronal.
O modelo de organização sindical, burocratizado, monopolizado e de pouca aderência social, com raras exceções, criou sindicatos sem expressão de legitimidade. A partir da nova legislação, a revisão do hábito da comodidade e as novas perspectivas de negociações coletivas desafiarão sindicatos, empresas e Judiciário nos próximos anos.
A Lei 13.467/17, que alterou a CLT em diversos artigos e que foi chamada de reforma trabalhista, trouxe alterações relevantes no campo das relações individuais e coletivas de trabalho e que obrigam os intérpretes à moda antiga à reflexão para reconstruir o Direito do Trabalho nas novas diretrizes. As alterações trazidas foram de substancial relevância no âmbito coletivo quanto à contribuição sindical facultativa e quanto à afirmação de valor da autonomia da vontade coletiva para atribuir às negociações coletivas mais segurança jurídica, e aos sindicatos, maior responsabilidade negocial.
Dentro do contexto da reforma, no campo das relações coletivas, vale sempre comentar o teor do artigo 8º, parágrafo 3º, da CLT, que assim dispõe: “No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva”.
Os elementos fundamentais do disposto no citado parágrafo parecem não trazer novidades do ponto de vista do Direito (norma) porque os princípios e requisitos do negócio jurídico coletivo sempre foram objeto de análise em questões que envolvem normas de natureza coletiva trabalhista: representatividade sindical, assembleia, a forma e conteúdo do instrumento negocial, acordo coletivo ou convenção coletiva.
Entretanto, a referência ao artigo 104 do Código Civil invoca diploma que sempre esteve à margem de aplicação do Direito do Trabalho, moldado este na proteção da relação individual. Contudo, é inegável que a validade do negócio jurídico, convenção ou acordo coletivo, não passou incólume da análise do Judiciário, cuja inobservância das partes era passível de nulidade do instrumento normativo.
Desse modo, o sindicato sempre foi o agente capaz na forma do artigo 104 do Código Civil. Essa capacidade, em se tratando de direito coletivo, não é adquirida pelo monopólio da representação formal que é imposta pela Constituição Federal (artigo 8º, VI), mas pela assembleia dos interessados que autoriza a materialização da vontade coletiva em acordo ou convenção coletiva. Pode-se dizer que o sindicato não age de forma autônoma, mas por meio dos representados e com eles se confunde na expressão dos seus interesses.
Ao tratar da intervenção mínima do Judiciário na autonomia da vontade coletiva, no nosso sentir, não se trata de impedir a prestação jurisdicional, mas de garantir que a autonomia da vontade seja a expressão dos interesses manifestados em assembleia, base fundamental e nuclear das relações coletivas do trabalho.
A intervenção mínima do Judiciário na autonomia da vontade coletiva poderá dar ensejo à interrupção do círculo vicioso em que a negociação coletiva seja revista pelo Judiciário trabalhista, que, considerando o sindicato frágil em sua composição associativa, desqualifica a norma coletiva.
Agora, deve valer a autonomia da vontade coletiva, e as entidades sindicais serão reconhecidas pela sua legitimidade por força da assembleia dos interessados.
Seguindo neste teor, a reforma incluiu o artigo 477-B na CLT para afirmar que o plano de demissão voluntária ou incentivada previsto em acordo coletivo enseja a quitação plena e irrestrita dos direitos decorrentes da relação de emprego.
O site do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo traz notícia (17/8/18) de que a 18ª Turma julgou improcedente ação civil pública, negando provimento ao recurso ordinário interposto pelo Ministério Público do Trabalho que pedia a condenação de empresa por supostas irregularidades decorrentes de demissão em massa de cerca de 1.400 trabalhadores no ano de 2016 (Processo 1001829-93.2017.5.02.0463).
Dentre os fundamentos do acórdão da lavra da desembargadora Susete Mendes Barbosa de Azevedo, além de farta manifestação que relata a crise do setor econômico, assevera que “o fato de a proposta de implementação ter sido encaminhada através de negociação coletiva, já enfraquece a tese do Ministério Público de que houve assédio e coação, com utilização do instrumento para mascarar demissões discriminatórias” (grifo nosso).
Trata-se, portanto, de valorização no âmbito da empresa e seus empregados das negociações coletivas, lideradas pelo sindicato que efetivamente representou a vontade dos trabalhadores, aplicando-se todos os elementos do atual parágrafo 3º, do artigo 8º da CLT, em especial os elementos do negócio jurídico que resultou no plano de demissão voluntária.
As reflexões que envolvem a reforma trabalhista não se esgotam, mas certamente o tema das relações coletivas vai merecer muito aprendizado e desprendimento da prática sindical de mais de 70 anos, com fortalecimento da boa-fé nas negociações coletivas.
Paulo Sérgio João – Advogado e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Fundação Getulio Vargas.